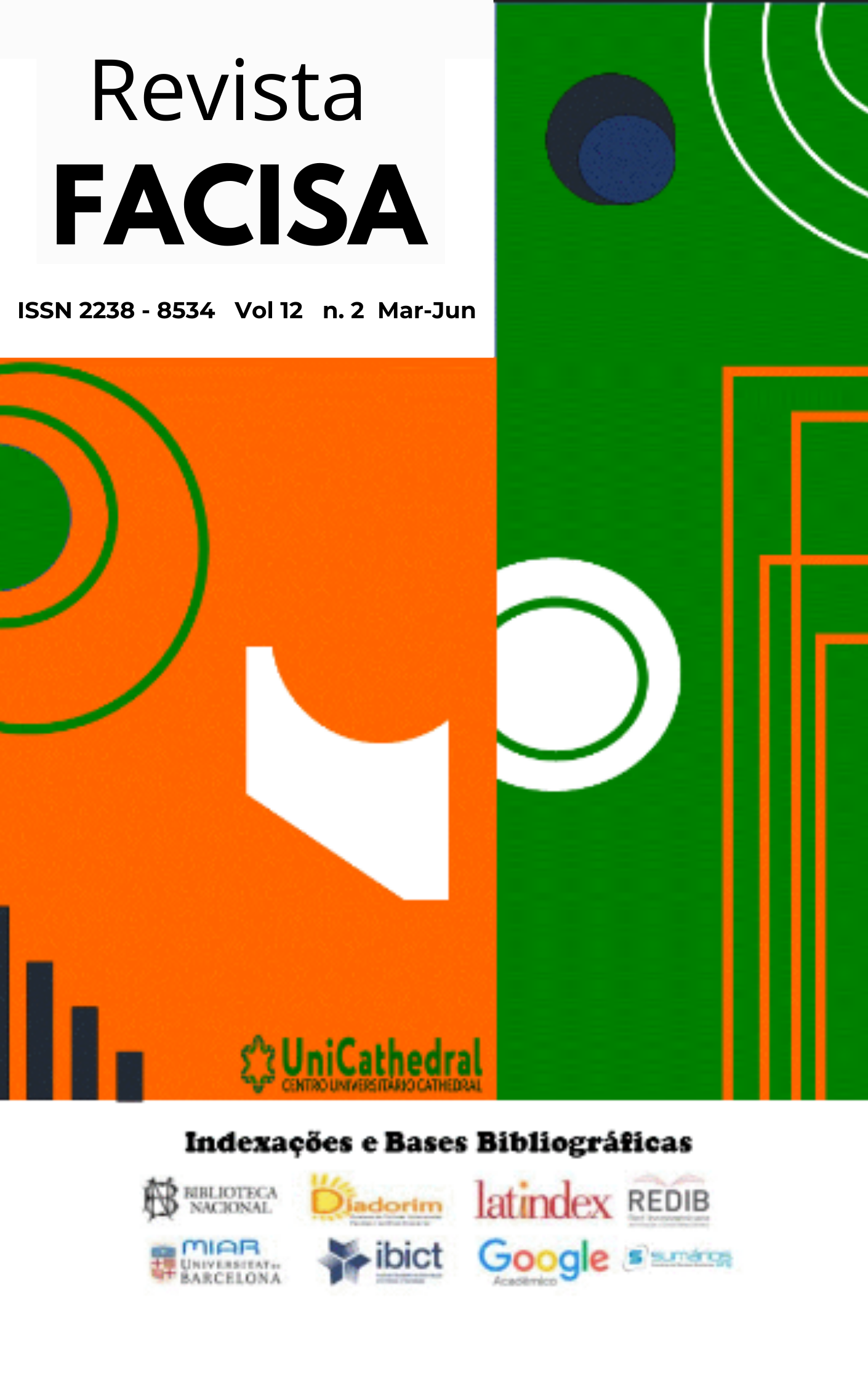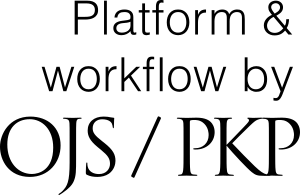A PARENTALIDADE POSITIVA NO CONTEXTO FAMILIAR E OS DESAFIOS QUE O ESTADO BRASILEIRO DEVE ENFRENTAR PARA DIFUNDIR ESSA VERTENTE FRENTE À APLICABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Resumo
Este artigo, cujo tema é: “a parentalidade positiva no contexto familiar e os desafios do Estado brasileiro na difusão dessa vertente frente à aplicabilidade das Políticas Públicas”, partiu da indagação: Como a parentalidade positiva é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro e demonstrar de que forma pode amenizar a violência infantil no contexto familiar? Objetivou-se apresentar a parentalidade positiva no contexto familiar e a (in)eficácia do Estado frente à aplicabilidade das políticas públicas. Tratou-se de pesquisa básica, na sua forma qualitativa, uma vez que, diante dos apontamentos a serem coletados, estabeleceu-se a interpretação do seu significado para melhor entendimento sobre o discutido. Aliou-se à pesquisa exploratória, a partir da pesquisa bibliográfica, com base na Lei n.º 13.010/2014, na Lei n.º 8.069/90, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88), em tratados nacionais e internacionais, que partiram da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, ainda em obras de grandes doutrinadores, como Maria Berenice Dias (2021). Realizou-se, ainda, a pesquisa de campo, por meio da entrevista semiestruturada com a Psicóloga Eduarda Giacomini, que esclareceu pontos fundamentais para a pesquisa. Concluiu-se que a parentalidade positiva, propriamente dita, não tem reconhecimento no ordenamento jurídico, mas, parcialmente, a sua essência está presente no ordenamento jurídico, visto que visam proteger e preservar a dignidades das crianças.Referências
ADORNO, S. (1988). Violência e educação. Caxias do Sul, V Simpósio Municipal de Educação. p. 3-25.
AZEVEDO, M. A. & GUERRA, V. N. A. Mania de bater. A punição corporal doméstica de crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Iglu, 2001.
BARROS, Sérgio. Direitos Humanos e Direito de Família. XII Jornada de Direito de Família. Rio Grande do Sul, 29 ago. 2003. Disponível em: http://www.srbarros.com.br/pt/direitos-humanos-e-direito-de-familia.cont. Acesso em: 03 abril 2022.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro 1988. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 abril 2021.
_______. Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 03 abril. 2021.
_______. Lei da Palmada, de 26 de junho de 2014. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13010.htm. Acesso em: 03 abril 2021
CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: Ed. da Unesp, 1999.
CONSELHO DA EUROPA. Recomendação 19 do Comité de Ministros do Conselho da Europa para os Estados – Membros sobre a política de apoio à Parentalidade Positiva. Lisboa. 13 dez. 2006.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 14. ed. Salvador. JusPodivm, 2021. 1056 p.
FONTELA, C. SOUZA, F. Diga, Gérald, o que é parentalidade? Tradução. Clínica & Cultura. Sergipe, 19 dez. 2016. Disponível em: https://seer.ufs.br/index.php/clinicaecultura /article/view/5375. Acesso em: 03 abril 2022.
FRABBONI, Franco. A Escola Infantil entre a cultura da Infância e a ciência pedagógica e didática. In: ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre. Artmed, 1998.
NELSEN, Jane. Disciplina positiva. 3. ed. São Paulo. Manole Ltda. 2016.